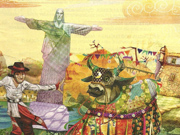A educação popular no Brasil: a cultura de massa
A TV e os demais produtos da cultura de massa são fenômenos, sem dúvida, controversos e complexos. Ora manipulam, ora servem como resistência frente a uma cultura do status quo. Ora educam, segundo uma lógica hedonista, ora educam para a emancipação (Kellner, 2001; Thompson, 1995; Martín-Barbero, 2003). É minha intenção demonstrar que os usos das mensagens desses veículos são heterogêneos e circunstanciados. Estão estreitamente influenciados pela trajetória e apropriação de um capital cultural oriundo da família e das instituições educativas pelas quais quase todos experimentam ao longo de suas vidas (Bourdieu, 2003, 1998, 1979; Morin, 1984).
Assim, a ênfase do argumento deste artigo foge dos maniqueísmos e das generalizações tão comuns neste debate (Setton, 2002, 2000) (3). A discussão aqui proposta sobre a cultura de massa privilegia o aspecto criativo do processo de produção/recepção cultural das mensagens. Ressalta novas possibilidades de interação a partir da difusão e troca de signos, valores e saberes sociais. Concordando com as colocações de Edgar Morin, apóio a idéia de que a cultura de massa pode ser considerada uma terceira cultura, ou seja, uma cultura que se alimenta a partir de uma relação de interdependência com outras culturas, seja esta escolar, nacional ou religiosa.
Creio que, para que se possa analisar a cultura de massa (4) ou, em uma versão mais moderna, para se analisar a cultura das mídias (Kellner, 2001), é necessário empreender uma análise interdisciplinar. Creio que dessa forma posso compreender o processo comunicativo proposto pela TV e demais mídias como um processo de interação, um diálogo contínuo entre criação (produtor) e consumo (receptor). Diferente de grande parte das leituras que se faz sobre o fenômeno, acredito que o receptor da mensagem midiática, televisiva ou não, não é passivo, não apreende as mensagens tal como foram propostas. A recepção não é o estágio final do processo comunicativo. Ao contrário, a recepção é uma fase que dá início a etapas criativas de apropriação e novas produções de sentido (Martín-Barbero, 2003, 2000; Certeau, 2002; Ginzburg, 1987). Saliento que existe uma margem de liberdade no processo de apreensão dos conteúdos por parte dos indivíduos. A etapa da interiorização é essencialmente particular e singular, derivada sobretudo da trajetória anterior de cada um. Dessa forma, é preciso explicitar que não considero os produtos e/ou conteúdos das mídias em sua totalidade como ideológicos. Apoiando-me em Thompson (1995), creio que são ideológicas apenas as mensagens que reforçam relações de dominação. Ou seja, toda explicitação de sentido que sustenta hierarquias e relações de poder.
DETERMINANTES SOCIOESTRUTURAIS: A CULTURA DE MASSA NO BRASIL
Em meados do século passado, e principalmente com os governos militares, a sociedade brasileira vê-se submetida a uma nova ordem social e econômica. Desde Getúlio Vargas, nas décadas de 30 e 40, seguido de Juscelino Kubitschek, nos anos 50, e culminando nas políticas pós-64, assistimos a um alto volume de investimento na infra-estrutura da informação e do lazer. Período de grande efervescência política, inversões financeiras na consolidação de um projeto político integrador possibilitaram a criação de um mercado de cultura e bens de consumo até então desconhecido por nós. Apoio institucional em políticas educativas utilizando o rádio e o cinema (Espinheira, 1934; Franco, 2000), tecnologias avançadas para a difusão de imagens via satélites, apoio estatal nos empreendimentos culturais, com a criação da Funart, Embrafilme, ou mesmo nos subsídios à importação do papel para a indústria editorial, promoveram, em poucos anos, as bases para a consolidação, sem precedentes, de uma cultura midiática em território nacional (Ortiz, 1988).
Neste artigo, chamo atenção para o fato de que é possível constatar a especificidade de uma nova ordem sociocultural, no Brasil, diferente da vivida pelos países como Estados Unidos e demais nações européias. Em 1950, quando as emissões de rádio estavam praticamente generalizadas em território nacional, o cinema levava multidões às salas de projeção e a difusão televisiva dava seus primeiros mas decisivos passos, metade da população brasileira era ainda analfabeta. O Brasil, juntamente com outros países latino-americanos, constrói, respectivamente, uma história cultural a partir de outras influências. Antes que a escola se universalizasse, antes que o saber formal se tornasse referência educativa para grande parte de nossa população, antes que a língua escrita estivesse generalizada em todo o território nacional, o rádio, a TV e o cinema já eram velhos conhecidos da população. É possível pois considerar que o imaginário ficcional das mídias há muito mais tempo vem colonizando os nossos espíritos. É possível considerar que esse imaginário está mais presente e é mais familiar no cotidiano dos segmentos sociais brasileiros, sobretudo os segmentos com baixa escolaridade, do que propriamente a cultura escolar (5).
Não obstante estas observações, é forçoso constatar um certo silêncio e desinteresse, entre os educadores, sobre a predominância da cultura de massa em relação à cultura escolar. Em recente levantamento entre as principais revistas especializadas em educação, nos últimos vinte anos, foi possível constatar a ausência de reflexões sobre a particularidade da configuração cultural e educativa do Brasil, e as implicações daí decorrentes para a formação escolar de nosso estudantado. Na realidade, sobre o tema dos meios de comunicação, parte dos pesquisadores está mais interessada nos aspectos didáticos e metodológicos dos usos das mídias do que propriamente nas determinações socioculturais do fenômeno (6).
A MATERIALIDADE DO FENÔMENO
Reforçando o argumento deste artigo, alguns números podem nos ajudar a justificar a importância da questão.
Atualmente, segundo dados do Censo Demográfico 2000, 53% da população brasileira freqüentou menos de 7 anos a escola, ou seja, não ultrapassou o ensino fundamental, e 27,7% ocuparam apenas 3 anos os bancos escolares. Apenas 47% estudaram de 8 ou mais de 15 anos. De acordo com esta mesma fonte, de um total de quase 45 milhões de domicílios brasileiros pesquisados, 93% têm acesso a energia elétrica, 87,7% possuem televisão, 87,4% possuem rádio e 35,3% possuem videocassete em suas residências (7). Nesse sentido, é importante ressaltar que a heterogeneidade de acesso aos meios educativos é um fato, e suas implicações são bastante complexas para o campo da educação formal e informal.
Em relação à mídia televisiva seria importante registrar a configuração do setor. As 65 emissoras nacionais, suas 349 geradoras e afiliadas, bem como suas 1.818 retransmissoras, dão conta de atingir quase a totalidade dos domicílios brasileiros (Lima, 2001). Ou seja, dos quase 90% dos domicílios que possuem televisores, a ação pedagógico-informativa das novelas, seriados, shows de variedades e filmes parece estar mais presente do que a ação escolar.
Fazendo uma breve pesquisa sobre a programação oferecida pela TV aberta, pude observar a oferta crescente de programas de natureza informativa e prescritiva (8). Classificando as ofertas das emissoras, foi possível verificar que os conteúdos da programação transcendem ao aspecto pedagógico explícito da transmissão dos documentários - Globo Repórter, Repórter Eco, Planeta Terra - (1.840 horas) (9), ou das programações propriamente educativas - Telecursos, Vestibulando Digital, Grandes Cursos Cultura (2.405 horas). Noticiários televisivos (10.430 horas) ou esportivos (3.225 horas) também cumprem uma função pedagógica. Com audiências significativas, expressam uma disposição do público em inteirar-se das questões econômicas e políticas da ordem do dia (10). É sabido que a ficção televisiva, há muito, na forma de seriados (1.510 horas), novelas (3.435 horas), filmes (780 horas), desenhos animados e/ou programação infantil (6.260 horas) e humor (350 horas), preenche o imaginário de crianças e adultos, disponibilizando ou prescrevendo comportamentos na diversidade de sua produção (Pereira Junior, 2002). Possibilitando o acesso a comportamentos e modelos de conduta a partir de "celebridades", ficcionais ou não, essa programação, ao mesmo tempo que integra todos em um ideal de civilização (capitalista, hedonista e consumista), possibilita a uma multidão o acesso a um código de conduta que até pouco tempo era restrito aos segmentos privilegiados. Em uma análise simplista, poderia identificar uma polarização entre manipulação ou integração a partir dos conteúdos propostos pela programação televisiva. É possível. Entretanto, creio que seria mais prudente e menos tendencioso investigar as formas de articulação e apropriação dessas mensagens pelos diferentes públicos.
Mais do que isso, é preciso comentar ainda a crescente promoção de programas religiosos e de variedade que subliminarmente (Ferrés, 1988) se propõem educativos. As emissões religiosas (5.365 horas), as emissões que investem nas entrevistas (2.790 horas), ou as emissões de entretenimento variado que provocativamente denomino paradidáticas - Note e Anote, Bom Dia Mulher, Melhor da Tarde, Vinho e Mesa, Neurônios, Mochilão, Fica Comigo, Vida e Saúde, Mestre Cura, Chek In, Turismo na TV (14.200 horas), grande parte destinada ao público jovem e feminino, especificamente, podem revelar uma identificação do público com uma sede de saberes e informações que a sociedade lhes cobra. Em um diálogo crescente entre a necessidade de informar-se, de estar por dentro das dicas do bem-viver, de uma "certa arte de viver" valorizada socialmente, a grande maioria da clientela televisiva engrossa os índices de audiência de uma programação que oferece a preços módicos e sem cobrança uma "educação" que se vende a partir da emoção e da diversão. Programas religiosos promovendo a vida ascética, regrada e disciplinada, e programas paradidáticos que prescrevem, estimulando, a conduta "correta" para mulheres e jovens expressam a meu ver uma demanda que há muito a escola e demais agentes tradicionais da educação deixaram de promover (Dubet, 1996).
Trabalhando de maneira interdependente com a TV e demais mídias (Santaella, 2000), temos o rádio, que também apresenta a característica de oferecer a seu público muito mais que um simples entretenimento musical e informativo. Uma série de vinhetas que disponibilizam informações e saberes especializados está a todo tempo atingindo um público diversificado. Não é raro ouvirmos dicas sobre saúde, cultura, turismo, meio ambiente e lazer, entre os noticiários nacional, internacional e esportivo, nas emissoras FM e AM, oferecidos no meio da programação musical. O mais antigo e mais acessível veículo popular de acesso à informação e entretenimento, no Brasil, ainda hoje, no início dos anos 2000, disponibilizava 2.013 emissoras (11). Sabendo da capacidade de atingir amplas extensões, com baixos custos, as rádios permitem a comunicação e a integração político-informativa, universalizando seu acesso, e como todos sabem criando uma tradição como veículos de educação a distância.
Em relação ao cinema, em 2000, segundo o Censo Demográfico, apenas 14% da população brasileira declarou freqüentar as salas de projeção, mas é importante lembrar que 35,3% possuem videocassete em suas residências. No entanto, a renda das bilheterias nacionais, em trinta anos, aumentou oito vezes - R$ 529,5 milhões contra R$ 70,1 milhões. A aparente contradição, não obstante, explicita apenas a mudança de hábito do brasileiro em relação a esse item do lazer. Dando preferência às salas em shoppings e concentrando em um único segmento seus consumidores, o cinema parece ser um fiel entretenimento dos segmentos mais abastados. Por outro lado, o crescimento das locações e lançamentos de vídeos expressa que o consumo cinematográfico só ampliou o uso doméstico da TV, conquistando, aos poucos, outros segmentos menos privilegiados (12). Atualmente, segundo o SAJ - Assessoria Empresarial Ltda., temos 5.867 locadoras no Brasil. O volume de vendas em fitas VHS, em 2002, foi de 2.833.961 e o número de DVDs alcançou o registro de 4.988.008 (13). A título de curiosidade, seria interessante registrar que, segundo o Anuário Estatístico de 1990, 52% do público prefere o gênero aventura e 49%, comédia. Para os objetivos deste artigo, o importante é salientar, no entanto, que o DVD foi lançado no Brasil em 1998, ou seja, há menos de dez anos. Naquela ocasião, a indústria vendeu 20 mil aparelhos e 105 mil CDs, segundo dados da UBV. Desde então, o preço dos leitores de DVDs caiu quase 50%, aumentando a possibilidade de uma parcela cada vez maior ter acesso a mais um eletrodoméstico midiático.
Em relação ao mercado fonográfico vemos semelhante expansão com forte apelo popular. Segundo pesquisas, desde o Plano Real, ou seja, meados da década de 90, nunca se vendeu tanto e nunca tantas pessoas de renda mais baixa tiveram a oportunidade de comprar um aparelho de som. Cerca de 5 milhões a 8 milhões de pessoas que antes nunca tinham tido um aparelho de som compraram um, depois do Plano Real. De acordo com essa mesma fonte, a popularização dos aparelhos de som foi tão rápida que num curto espaço de tempo - 1995 e 1996 - foram vendidos 10,7 milhões de sistemas de som, número superior à população de Portugal. A venda de CDs, em 1997, chegou a 104 milhões (Suplemento Mais!, Folha de S. Paulo, 1998) (14). Atualmente, em função da pirataria, o volume é da ordem de 79,6 milhões, 20% menor que em 2001; 76% do total das vendas foi de produtos de artistas brasileiros. Os álbuns mais vendidos, em 2002, são Xuxa, Xuxa só para os Baixinhos 3, Rouge, Popstar, Roberto Carlos, Roberto Carlos 2002, Vários, O Clone Internacional, todos de forte apelo popular (15). Seria interessante ressaltar também a premiação organizada pelo setor. Em 2003, o Disco de Ouro, relativo à venda de 100 mil unidades, foi entregue para Amado Batista, o Disco de Platina, correspondente a 250 mil cópias, foi dado para Jorge Vercílio e a dupla Sandy e Junior, e o Disco de Platina Duplo, totalizando 500 mil unidades, foi entregue ao CD da novela Mulheres Apaixonadas. Um total de mais de um milhão de cópias vendidas oficialmente para um público que facilmente poderia ser classificado como popular. Para o desenvolvimento do argumento deste artigo, é importante registrar também que grande parte dos consumidores do mercado fonográfico é de estudantes (23%), ainda em idade escolar, ou seja, entre 15 e 23 anos. Boa parcela, 46%, tem nível de escolaridade distintiva, isto é, nível médio e superior, entretanto, 54% dos consumidores estudaram apenas até oito anos (União Brasileira dos Produtores de Discos - UBPD, 2001-02).
Para completar a análise da expansão do consumo de bens da cultura de massa no Brasil, enfatizando seu apelo informativo e prescritivo, e muitas vezes popular, seria importante considerar o mercado de impressos e o público deste setor.
No que se refere ao acesso à leitura, recente pesquisa sobre alfabetismo/letramento (16) aponta que 67% da população brasileira encontra-se na situação de analfabetismo funcional. Isto é, encontra-se nos níveis 1 e 2 caracterizados por baixa habilidade e compreensão da leitura (17).
Em "Os Números da Cultura", Abreu (2003) revela que, segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf) 2000, 67% dos entrevistados gostam de ler: 32% gostam muito e 35% gostam um pouco. Comentando outra pesquisa, Retrato da Leitura no Brasil (18), a autora aponta que 98% dos entrevistados possuem em suas casas material escrito, entre eles, livros didáticos, enciclopédias, dicionários, livros infantis, bíblias, livros sagrados e religiosos, livros técnicos e específicos, livros de literatura e romances, agendas de telefones e endereços, calendários e folhinhas, livros de receitas de cozinha, álbum de família, guias e catálogos.
No entanto, notem, essa pesquisa não menciona a produção do mercado de periódicos, fascículos e revistas em circulação. Se, por um lado, a autora chama a atenção para a necessidade de ampliar o entendimento sobre a leitura no universo brasileiro, integrando entre as práticas de leitura álbuns de família, cadernetas de endereço, etc., as pesquisas que comenta ignoram dados sobre uma grande fonte de prazer e leitura que são as bancas de jornal.
Não obstante, é forçoso salientar que neste item, em 2001, segundo o Instituto Verificador de Informações, 14.132.700 revistas circularam em território nacional. Entre elas, as revistas relativas ao universo cultural feminino (feminina, adolescente, saúde, puericultura, trabalhos manuais, moda, horóscopo - 1.750.041), revistas relativas ao mundo dos games e infanto-juvenis (1.317.050), juntamente com as revistas destinadas ao segmento de interessados em televisão e sociedade (1.288.232), destacam-se como as campeãs em venda. Nesse sentido, esse mercado, embora tímido em relação a outros países, na maioria desenvolvidos, parece ser também um exemplo significativo que expressa o crescimento de uma cultura de massa letrada no Brasil.
Já na década de 70, Ecléa Bosi, em seu clássico Cultura de Massa e Cultura Popular, apontava que as revistas faziam parte do universo de leitura das operárias. Temas sentimentais, horóscopo, religião e moda eram os mais presentes. Seria importante ressaltar aqui que a prática entre elas estava associada à compra e à constante troca e circulação dos exemplares. Nesse sentido, é possível inferir um efeito multiplicador desses números (19).
Em 2000, segundo o Anuário Estatístico de Mídia, comercializaram-se 931 títulos de revistas, sendo os que mais se destacam, como foi visto anteriormente, os referentes a um segmento feminino e adolescente. No entanto, é expressivo o número de 370 títulos relativos a revistas que poderiam ser qualificadas também como paradidáticas. Ou seja, revistas de "vulgarização" de saberes e competências, conselhos, dicas de estilos de vida variados, competindo com as orientações que podem e devem ser adquiridas nas escolas. Tal como verificado com a mídia televisiva e radiofônica, a produção de entretenimento impresso, via revistas especializadas, amplia o acesso à informação para um público diversificado e jovem
Os títulos mais relevantes, em termos numéricos, se encontram na área da arquitetura, decoração e paisagismo (49), informática/games (33), construção e engenharia (29), arte, cultura e educação (20), entre outros (20). Assim, seria interessante chamar atenção para o fato de que todas elas disponibilizam, nas bancas de jornal, periódica e sistematicamente, um conjunto de preceitos ou princípios de conduta que ajudam a orientar os comportamentos de seus leitores. É como se essas revistas oferecessem informações e conhecimentos para um público heterogêneo, conhecimento este antes restrito a um universo de peritos. Poderia afirmar, nas categorias de Anthony Giddens (1991), que elas estariam servindo para publicizar, com a TV e demais produtos midiáticos, uma educação fora dos eixos tradicionais, possibilitando um aprendizado, e uma circulação do saber, fora da escola.